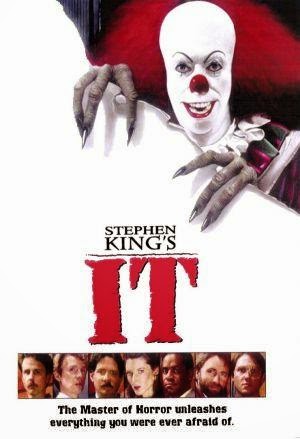OBS: Não sou fã do Oscar, nunca concordei com os “requisitos” e nomeações e
normalmente não tenho curiosidade em assistir aos filmes selecionados. Todavia,
assisti a três deles recentemente: Whiplash: Em Busca da Perfeição, O Grande Hotel Budapeste e Birdman. Para a minha surpresa, os três filmes foram agradáveis, mas o único
merecedor de um prêmio desta magnitude (na perspectiva dos envolvidos) é mesmo
este que vos resenho.
O cineasta
mexicano Alejandro González Iñarritu começou sua promissora carreira
cinematográfica para valer com a chamada “Trilogia da Morte”, formada por Amores Brutos (2000), 21 Gramas (2003) e Babel (2006), sendo que cada um contem três narrativas distintas
que se cruzam em algum momento da trama. A meu ver, o único destes filmes capaz
de sustentar suas três narrativas individualmente e amarrá-las em um todo coeso
é 21 Gramas (mesmo com sua montagem
confusa, não linear e aparentemente aleatória). Já o superestimado Amores Brutos peca por apresentar uma
envolvente primeira narrativa cuja qualidade não é mantida pela demais e a
conexão estabelecida entre os personagens de Babel revela-se bastante picareta (refiro-me especialmente aos
segmentos no Japão). Todavia, embora sejam filmes inferiores a 21 Gramas, estão longe de ser ruins.
Ainda não assisti a Biutiful (2010)
para poder formar uma opinião sobre ele.
Eis
que quatro anos após seu último longa, Iñarritu retorna com Birdman... ou seu pomposo subtítulo que, apesar de fazer sentido e ser de
fato mencionado na trama, provavelmente foi incluído para não confundir as
pessoas – os mais desavisados podem realmente pensar que se trata de um filme
de super-heróis. Michael Keaton interpreta o protagonista Riggan Thomson, um
ator que, ao abandonar uma franquia cinematográfica de sucesso há mais de duas
décadas, caiu no esquecimento, sendo lembrado apenas pelo personagem Birdman, o
qual interpretou no auge de sua carreira. Desesperado para retornar aos
holofotes e provar para o mundo que é realmente um ator digno de atenção e
prestígio, Riggan não mede esforços – emocionais, físicos e financeiros – para
escrever, dirigir e atuar em uma peça na Broadway como uma última esperança de
reconhecimento.
Para
tal feito, Riggan conta com a ajuda de Sam (Emma Stone), sua filha, recém-saída
da reabilitação, quem não enxerga o próprio como um exemplo de pai e
profissional, seu melhor amigo e fiel advogado Jake (Zach Galifianakis), as atrizes
Lesley (Naomi Watts) e Laura (Andrea Riseborough) – com quem Riggan tem um
relacionamento – além de toda a equipe. Após um “incidente” com o segundo ator
masculino do elenco da peça, Lesley indica Mike (Edward Norton sendo ele mesmo)
como substituto, o que causa tensão nos ensaios, já que este constantemente questiona
a Riggan sobre a própria peça e suas motivações por trás dela (assim como faz
Sam e a ex-mulher, Sylvia – interpretada por Amy Ryan). No meio de tudo isto
está o próprio Birdman, que surge como a consciência de Riggan em certos
momentos da narrativa, atormentando-o pelas escolhas quem fez durante os
últimos vinte anos e por todos os problemas que enfrenta durante a produção da
peça. Estes são alguns dos melhores momentos da trama e, ao testemunhar as “habilidades”
de Riggan, entendemos como ele enxerga a si mesmo.
A
Metalinguagem está presente em todo o filme. Birdman é claramente inspirado em
Batman, o super-herói que o mesmo Michael Keaton viveu nos cinemas em 1989 e
1992 (o mesmo ano em que Riggan viveu seu personagem pela última vez). A
própria voz de Birdman nos remete a do Batman da trilogia de Christopher Nolan.
Edward Norton é, notoriamente, um ator tão talentoso quanto difícil, às vezes
insuportável, de acordo com algumas pessoas com quem já trabalhou. Naomi Watts,
por sua vez, já viveu uma aspirante a atriz no intrigante Cidade dos Sonhos (2001) e em King
Kong (2005). Entretanto, a maior referência à Metalinguagem e também o grande
triunfo de Birdman é sua
cinematografia que, ao empregar a utilização de um aparente plano-sequência ininterrupto
durante quase todo o filme, sugere que estamos assistindo a uma peça teatral
sobre a vida de Riggan – as elipses também ocorrem aqui e diversos atores saem
de cena para retornar posteriormente enquanto acompanhamos outros, assim como
no Teatro. Magnífico trabalho de Iñarritu e do diretor de fotografia Emmanuel
Lubezki (especialista em planos-sequência, como comprovado por obras como Filhos da Esperança, de 2006, e Gravidade,
de 2013, ambos de Alfonso Cuarón, outro mexicano talentoso).
Todas
as atuações estão acima da média. Destaco Emma Stone e Galifianakis, ambos
atores competentes que aqui encarnam personagens diferentes dos quais estão
acostumados. O filme, entretanto, é mesmo de Michael Keaton, que se entrega da
mesma forma que seu personagem. Enquanto a redenção para Riggan é uma
possibilidade, para Keaton, é certeza absoluta. Que volte ao patamar de onde
nunca deveria ter saído. Além de sua marcante presença, da impecável cinematografia
e do envolvente roteiro, o filme ainda nos brinda com um desfecho ambíguo digno
de debates em mesas de bar (o qual não citarei aqui por questões éticas).
Quaisquer sejam as possibilidades, só uma coisa é certa: no final, você decide.
Nota: *****




.jpg)